Inauguro esse blog, uma nova fase da minha recente
Espero que gostem... e não se desesperem, pois esse blog pretende tratar de muitas outras coisas, não só de evolução. Aguardem e confirem...
~8~
Nem melhor nem pior, apenas adaptado – uma breve discussão sobre a complexidade da evolução ou a evolução da complexidade
André Guilherme Madeira
Universidade Federal do ABC, UFABC
Rua Santa Adélia, 166. Bairro Bangu. Santo André – SP – Brasil
Resumo: A teoria da evolução é amplamente aceita no âmbito científico e cada vez mais aceita pela sociedade. Porém, alguns conceitos aparecem destorcidos, como a ideia de evolução em escada e a ideia de tendência a uma maior complexidade. Com conceitos básicos da evolução esclarecidos e o desenvolvimento de ideias mais avançadas, como a explosão do Cambriano e a triangulação, essas confusões e o antropocentrismo tendem a desaparecer. O desenvolvimento da biologia molecular e o estudo amplo dos fósseis foram cruciais para chegarmos ao nível de entendimento atual da história da vida.
Palavras chave: complexidade, evolução, triangulação.
Introdução
A teoria da evolução, de Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, é a teoria científica mais forte dos últimos 150 anos em termos de impacto tanto na sociedade científica quanto na sociedade em geral. Mudou não só o modo como se faz a biologia mas mudou também o modo como as pessoas veem o mundo a sua volta. No campo da ciência, Dobzhansky já disse que “nada faz sentido na biologia a não ser à luz da evolução”, opinião que é consenso entre os biólogos modernos. Hoje em dia, não se faz nenhuma pesquisa biológica – seja na área molecular, bioquímica, sistemática ou ecologia – sem se levar em conta aspectos evolutivos. No dia-a-dia, para os que aceitaram a teoria da evolução, caiu a ideia de que temos uma origem divina e de que viemos a Terra para reinar sobre as outras formas de vida; agora somos somente mais uma espécie entre tantas outras, sem nada de especial, que descendeu de espécies anteriores já extintas.
A teoria da evolução tem um carro chefe, que de tão simples impressiona pela abrangência e coesão – a seleção natural. Segundo ela, as modificações presentes nas espécies atuais são o reflexo das pressões da natureza, que passam os selecionandos – todos os seres vivos do planeta – em peneiras, onde os mais adaptados passam pelas peneiras enquanto os menos adaptados sucumbem e não passam o seu legado para frente. A medida de quanto adaptado um organismo é ao seu ambiente é feita pelo número de descendentes que ele deixa – seu sucesso reprodutivo. Todo organismo que deixa um número de descendentes maior do que a média dos outros de sua especie é considerado mais adaptado ao seu meio, e as suas características – em especial as que lhe conferem um maior sucesso reprodutivo, mas não somente essas, como veremos a frente – tendem a se fixar na população.
Porém, a seleção natural é vista por muitos como a única força atuante na evolução e que todas as características que observamos nos organismos vivos advém de sua ação, e ainda atribuem a ela o desaparecimento dos grupos extintos. Na verdade, pode-se explicar todos os caracteres observados nos grupos atuais e mesmo os não observados com a construção de “cenários adaptativos”, que são baseados apenas na seleção natural. Mas o que realmente se observa é que a seleção natural é sim o mais importante mecanismo de fixação de caracteres, mas não o único. Muitas vezes, o acaso aparece. E é inclusive mais importante do que a seleção natural. Na biologia evolutiva, o acaso é chamado de deriva genética e atua em todos os organismos a todo momento; enquanto alguns de seus caracteres, sejam eles morfológicos ou moleculares, estão sob ação da seleção natural, outros estão sob ação da deriva genética. A deriva tem um papel especial em casos de extinções em massa. Não importa o quão bem adaptado um indivíduo está ao ambiente em que vive, uma extinção em massa atinge todos os organismos e uma espécie super bem adaptada ao seu meio pode vir a se extinguir, por acaso.
A deriva também atua na evolução de genes. Enquanto um gene pode estar sob ação de seleção (gene A), outro gene (gene B), pertencente ao mesmo locus e que, portanto, segrega junto com o gene A, será selecionado também, mas não por apresentar um maior valor adaptativo, e sim pelo simples fato de estar próximo ao gene A. O gene B pode então ser fixado na população por deriva genética.
Outro papel da deriva genética é o das espécies fundadoras – uma pequena porção de indivíduos alcança um território não ocupado, uma ilha ecológica, e toda a população daquele lugar será composta por indivíduos descendentes dessa pequena população. Não importa se esses indivíduos tem um alto valor adaptativo ou não, somente as suas características estarão presentes na população futura da ilha, de forma que uma característica que não seria fixada em outros ambientes será fixada na população dessa ilha ecológica, apenas por causa das características de seus fundadores.
Com esses conceitos em mente, podemos ir um pouco mais longe...
A maioria das representações da evolução traçam uma linha contínua no tempo, das bactérias aos invertebrados, desses aos peixes e daí até o homem, passando por anfíbios, dinossauros, répteis e aves, chegando aos mamíferos pelos roedores, passando por macacos, macacos eretos e chegando, finalmente, ao ápice da evolução, o homem. Existem dois grandes problemas nessa representação. O primeiro deles é a visão de tendência a complexidade, uma vez que o ser humano é tratado como o ápice da evolução por ser teoricamente mais complexo. O segundo é a ideia de linearidade, onde o ser humano seria o fim da evolução de uma linhagem de descendentes inferiores que possuem estruturas inacabadas, a meio caminho de se tornarem estruturas humanas.
No primeiro caso, vários são os argumentos contra a ideia de tendência a uma maior complexidade. Grande parte dessas ideias baseia-se no conceito de deriva genética, discutido anteriormente.
Analisando os grupos de seres vivos observados hoje em dia, vemos claramente que não existe uma tendência à maior complexidade, pelo simples fato de observarmos bactérias dominando todos os ambientes possíveis, mesmo sendo a forma de vida mais simples conhecida e muito próxima do que se acredita ser a complexidade mínima suportada pela vida. Ora, mas se não existe uma tendência a maior complexidade, de onde vieram os organismos complexos, como os animais? Uma analogia muito útil é a analogia da parede esquerda, utilizada por Gould.
Pensemos em uma superfície, que representa a complexidade presente nos diversos grupos de seres vivos na Terra, que da esquerda para a direita apresenta uma complexidade crescente. Na margem esquerda dessa superfície encontramos uma parede, que está na posição da complexidade mínima necessária para um organismo vivo. As primeiras formas de vida surgiram muito próximas a essa parede, ou seja, muito pouco complexas. Qualquer modificação que alterasse a complexidade desses seres só tinha dois caminhos: diminuição da complexidade, caindo à esquerda da parede, ou aumento da complexidade, caminhando para a direita da nossa superfície. Se a parede representa um grau de complexidade mínimo compatível com a vida, qualquer ser vivo que viesse a cair à esquerda da parede está fadado a morte. Portanto, no início da evolução da vida, pode-se dizer que existiu uma tendência a maior complexidade sim. Porém, a partir do momento que aparecem seres distantes o suficiente da parede esquerda, essa tendencia desaparece, pois ambas as direções são possíveis! É por esse fator que vemos seres como os vermes chatos parasitas, que apresentam regressão de quase todos os sistemas; sistemas esses que eram muito provavelmente mais complexos em seu ancestral. Esse tipo de associação e reconstrução de ancestrais é possível graças a triangulação, uma técnica abordada mais pra frente nesse mesmo texto.
Outro fato que chama a atenção é a explosão do Cambriano, evento que durou cerca de 5 milhões de anos onde surgiram todos os grupos animais conhecidos atualmente, com a possível exceção dos briozoários, e teria ocorrido a cerca de 530 milhões de anos atrás. O estudo desse evento, através do estudo da fauna presente no registro fóssil, nos mostra que todos os animais recentes são apenas variações de temas que surgiram no Cambriano. As bactérias surgiram a cerca de 3,5 bilhões de anos, pouco depois da Terra se tornar um local habitável pelas formas de vida que conhecemos. Gould diz que “3 bilhões de anos de unicelularidade, seguidos de 5 milhões de anos de intensa criatividade e finalizados por mais de 500 milhões de anos de variações sobre temas anatômicos estabelecidos dificilmente podem ser classificados como uma tendência previsível, inexorável ou contínua na direção do progresso ou da crescente complexidade”.
Não se sabe ao certo o porquê de a explosão Cambriana ter ocorrido e muitas teorias existem, intrigando os cientistas até hoje. Richard Dawkins, em seu livro “A grande história da evolução”, discorre sobre o tema no “conto do verme aveludado”. Dawkins apresenta três hipóteses para explicar a explosão do Cambriano. Em um primeiro cenário, a explosão não teria ocorrido. Simplesmente houve uma maior capacidade de formação de fósseis no Cambriano, e as formas de vida animal anteriores não se fossilizaram, simplesmente por serem muito pequenos para tal ou porque as condições geológicas não contribuíssem. Outra hipótese é a hipótese da “explosão no meio do estopim”, onde a distância que existe entre o ancestral de todos os animais, que se supõe ter existido a 590 milhões de anos, e a distância que existe entre os animais de Chengjiang (um famoso sítio repleto de fósseis do Cambriano), que datam de 525 milhões de anos, teria sido mais do que suficiente para estabelecer os diferentes filos que vemos hoje em dia – um tempo de 65 milhões de anos. Esses animais não seriam mais diferentes entre si do que dois animais de ordens diferentes hoje em dia, e esse tempo é o tempo que os mamíferos tiveram para divergir desde o desaparecimento da maioria dos dinossauros. Essa é a teoria mais aceita nos dias de hoje e é conhecida como a teoria do barril – um barril vazio que foi ocupado em todos os seus cantos pelos animais assim que eles surgiram e nunca mais foi esvaziado. O que teria acontecido após a extinção do Cretáceo que extinguiu os grandes dinossauros foi que os mamíferos ocuparam os nichos do barril que foram desocupados pelos lagartos terríveis. Para terminar, temos a teoria da explosão abrupta. Segundo essa teoria, os filos animais teriam surgido, já diferenciados como filos claramente distinguíveis, em 5-6 milhões de anos, um período de tempo considerado muito curto para a maioria dos cientistas. Essa última teoria, entretanto, tem ganhado algum terreno com o estudo de genes Hox (que também são utilizados como explicação na teoria do barril), onde uma mutação pode causar mudanças realmente drásticas no plano corporal dos animais, mas ainda é vista com muita ressalva.
Sobre a visão da evolução como uma linha reta, contínua, do organismo “menos evoluído” para o “mais evoluído”, a primeira crítica que podemos fazer é sobre a inconsistência que essa ideia tem com uma das bases da teoria da evolução: a especiação, que é o surgimento de duas espécies diferentes a partir de uma única. A especiação é a “ramificação de uma linhagem a partir do tronco parental”, como definido por Stephen Jay Gould no seu livro “Darwin e os grandes enigmas da vida”, no ensaio “arbustos e escadas na evolução do homem”.
Se a especiação é uma ramificação a partir de um tronco, podemos facilmente fazer uma analogia com um arbusto, que é formado por um tronco com uma série de inúmeras ramificações desse tronco até as incontáveis folhas, que representariam os táxons terminais, nesse caso, as espécies. Os eventos seguidos de especiação formariam as ramificações da evolução, onde cada “galho” representa as linhagens diferentes. Cada linhagem segue seu caminho independente, de modo que as folhas na extremidade dos galhos tem um único caminho do tronco até elas – ou delas até o tronco, tanto faz – e todas as folhas apresentam intersecções em comum com as outras. Um par de folhas pode ter uma intersecção em comum bem perto delas, de modo que o caminho do tronco à elas seria muito parecido, divergindo apenas no final. No caso de duas espécies, seriam espécies irmãs ou do mesmo gênero. Algumas outras folhas, bem distantes no Arbusto, poderiam ter como nó em comum apenas o tronco, o que seria o equivalente entre um leopardo das neves e uma E. coli. Galhos curtos e cujas folhas caíram representariam os táxons já extintos.
Vendo a evolução como um arbusto, fica claro que nenhuma espécie pode ser considerada “mais evoluída” do que outra, pois os caminhos até o tronco são únicos, porém, equivalentes em tamanho, e nenhum pode ser escolhido como melhor ou pior. Outro ponto importante é que a seleção natural molda os organismos de modo que os mais adaptados ao seu meio sobrevivam. Portanto, todas as espécies que vemos vivas hoje em dia estão igualmente bem adaptadas, pois todas passaram pelas peneiras da seleção natural. Assim, novamente, o conceito de mais ou menos evoluído cai por terra e a evolução em escada ou linha reta parece não fazer sentido algum. Gould faz um ataque a esse pensamento exemplificando com a evolução do homem, ainda no mesmo ensaio.
A evolução recente do homem era vista antigamente como uma escada, que ia do Australopithecus africanus para o Homo erectus e desse para o Homo sapiens. Com o surgimento de mais fósseis, tanto de outros membros do gênero Australopithecus quanto de outras espécies de Homo, como o Homo habilis, essa escada foi desfeita e hoje aceita-se que os Australopithecus são uma linhagem irmã de Homo, e não uma linhagem ancestral. Porém, no ensaio de Gould, que data de 1976, o H. habilis e o H. erectus ainda figuram como ancestrais de H. sapiens... o que nos leva a pensar: como podemos afirmar se algum fóssil representa de fato um ancestral ou não?
Levando em conta a raridade do evento de fossilização e o número enorme de seres vivos de todas as espécies que já pisaram na Terra, e até os que não pisaram por não terem pés, podemos afirmar com muita propriedade que uma parcela muito pequena das espécies que já viveram na Terra possuem representantes fossilizados. E mais: enquanto algumas das espécies que encontramos no registro fóssil podem sim representar nossos ancestrais ou ancestrais de qualquer outra espécie viva, outras podem muito bem serem representantes de linhagens extintas, que não possuem nenhum descendente vivo. Como saber?
Aí é que está – até o momento, com o conhecimento que possuímos, não é possível. E acredito que nunca será. A única possibilidade é se tivermos conhecimento de todas as espécies que já viveram na Terra, de todos os grupos. E, como já foi mencionado, a escassez do registro fóssil não nos permite ter tal conhecimento – mesmo que descobríssemos todos os fósseis da Terra, nunca teríamos conhecimento sobre as espécies que não se fossilizaram, e, mesmo se todas as espécies se fossilizaram, nunca saberíamos disso. Portanto, a abordagem atual na paleontologia é classificar as espécies encontradas como representantes de linhagens extintas e nunca como ancestrais de algum grupo vivo.
Mas, mesmo se esses fósseis forem classificados como linhagens independentes, elas ainda precisam se encaixar no grande Arbusto da Vida. Em algum ponto, o seu ramo, mais curto que os demais e sem folhas, deve aparecer. Como determinar de que ramo vieram as folhas caídas no chão? À propósito, é só isso que temos: as folhas! Inclusive para classificar os animais vivos, ou seja, as folhas verdes, tudo que temos são as próprias folhas e não o Arbusto inteiro! Como saber de onde vieram as folhas que vemos, sejam elas verdes ou amareladas? Como determinar se essa ou aquela espécie são mais próximas entre si do que de uma terceira?
Só existe uma maneira: comparação. Aqui temos uma diferença entre um arbusto real e o nosso Arbusto da Vida. Isso não tira a validade da analogia, pois as analogias são feitas para facilitar o entendimento de um determinado processo, e não para explicá-lo por inteiro. Em um arbusto real, folhas próximas não são mais parecidas entre si do que são com as folhas do outro lado do arbusto. No nosso Arbusto da Vida, quanto mais próximas são as folhas, mais parecidas entre si elas serão. Portanto, comparando três ou mais folhas, podemos dizer as relações de “parentesco” entre elas, ou seja, o quanto são parecidos os caminhos que levam do tronco principal até os ramos que as contém.
Para tais comparações, os fósseis se mostram úteis. Eles podem mostrar como eram os organismos no passado e dar uma ideia de como os ancestrais dos grupos modernos podem ter sido. Mas uma das mais poderosas armas na mão dos biólogos hoje em dia é o DNA. O DNA tem o mérito de ser copiado com uma fidelidade tão grande que pode nos contar histórias de bilhões de anos, e ao mesmo tempo apresenta modificações que nos contam histórias tão recentes quanto os últimos eventos de especiação. Com uma ferramenta dessas utilizada em conjunto com a triangulação, que é o ato de comparar duas coisas e inferir uma terceira, podemos fazer a reconstrução dos ancestrais de dois ou mais organismos, além de estabelecer o grau de parentesco entre eles.
A triangulação funciona basicamente do seguinte modo: comparamos as sequências de DNA dos organismos X, Y e Z, todos de espécies diferentes. As sequências são as seguintes:
Organismo X: ATGCTTACGG
Organismo Y: ATGCTAATGT
Organismo Z: ATGGTAATGG
De posse dessas três sequências, começamos fazendo comparações entre elas, contando quantos nucleotídeos são compartilhados entre as sequências:
X: ATGCTTACGG
Y: ATGCTAATGT
Z: ATGGTAATGG
de modo que a marcação em vermelho representa uma semelhança entre as sequências de X e Y, a marcação em amarelo a semelhança entre X e Z, enquanto as marcações em azul representam as semelhanças entre as sequências de Y e Z. Percebam que os sítios onde as três sequências coincidem não são informativos e por isso esses sítios não são levados em conta nesse tipo de análise. Como temos duas semelhanças específicas entre Y e Z, uma semelhança específica entre X e Y e uma semelhança específica entre X e Z, podemos inferir que Y e Z formam um grupo irmão, com X como grupo irmão de Y+Z, como demonstrado abaixo:
A reconstrução dos ancestrais pode ser realizada da mesma maneira, comparando as sequências. O ancestral comum de Y e Z – que chamarei de YZ – deve apresentar todos os nucleotídeos compartilhados entre essas sequências, de modo que as diferenças entre elas devem ter surgido depois do evento de especiação. Para escolher qual o nucleotídeo presente em YZ nos sítios divergentes entre Y e Z usa-se o grupo externo, nesse caso X. De modo análogo, podemos inferir a sequência do ancestral de X, Y e Z – que será chamado de XYZ – comparando as sequências de X e de YZ. Com isso, temos:
YZ: ATGCTAATGG
XYZ: ATGCT(TA)A(CT)GG
Nas posições entre parênteses, qualquer nucleotídeo tem igual probabilidade de ter estado na sequência do ancestral. Não sabemos se o nucleotídeo original no sexto sítio de XYZ era uma timina, que mutou para adenina em X, ou se era uma adenina, que mutou para timina em YZ, por exemplo. Lembrando que essas sequências inferidas para os ancestrais são apenas suposições, assim como o relacionamento inferido para os organismos X, Y e Z. Nunca saberemos se essa é a relação correta entre eles. Só temos como dizer o que é mais provável.
Esse tipo de análise é conhecida como inferência filogenética e não funciona apenas para sequências de DNA. O mesmo tipo de raciocínio pode ser empregado no estudo de caracteres morfológicos, como ausência ou presença de uma determinada estrutura ou tipo de célula (esse tipo de comparação é o único que é possível na taxonomia dos grupos fósseis, uma vez que o seu DNA não é preservado), caracteres citogenéticos, como número e tamanho de cromossomos, análise das sequências de aminoácidos de proteínas, que refletem o DNA, e até aspectos comportamentais dos grupos estudados.
Para determinadas análises, é possível inclusive dizer quando as modificações informativas nas sequências de DNA ocorreram. Para tal, utiliza-se a teoria do relógio molecular, proposta por Pauling, que diz que as sequências de DNA sofrem substituições de nucleotídeos em taxas constantes para cada gene específico. Com esse dado e as sequências estudadas, basta contar as substituições e teremos a data aproximada dos eventos de especiação. Como calibração do relógio utilizam-se, mais uma vez, os fósseis, que podem ser datados por diversos métodos e mostram a idade mínima do grupo ao qual eles pertencem. O relógio molecular foi amplamente testado e já se mostrou não universal, ou seja, não é válido para todos os genes e nem para grupos muito distantemente relacionados, mas pode ser utilizado em situações locais. Diferentes genes devem ser utilizados para escalas temporais diferentes – em geral, utiliza-se genes de proteínas mais conservadas para comparar grupos distantes e genes de proteínas com maiores taxas de substituição para grupos próximos.
Em suma, fica a ideia de que a tendência à maior complexidade na evolução leva a ideia que os seres humanos são o passo final do processo – ou o segundo leva ao primeiro. Tendo em vista o nosso sistema nervoso, que é nitidamente mais complexo do que o dos outros animais, vemos essa tendência, mas apenas analisando a posteriori. Na verdade, no ramo que leva ao ser humano, o sistema nervoso se tornou mais complexo, mas voltando à ideia do Arbusto da Vida, isso não é necessariamente verdade para os outros ramos. Nunca podemos nos esquecer que ao nosso lado continuam lutando pela vida todos os outros ramos que divergiram da nossa linhagem. No ramo já citado anteriormente dos vermes chatos parasitas – Neodermata, para ser mais exato – o sistema nervoso foi um dos sistemas que regrediu, enquanto que em Echinodermata o sistema nervoso se tornou radial, perdendo a centralização, o que também indica perda de complexidade.
Enquanto somos mais complexos no que diz respeito ao sistema nervoso, comparando os seres humanos com outros animais, podemos ver claramente que não somos os animais mais complexos da Terra em muitos outros aspectos. E nem precisamos ir tão longe. O cachorro que mora no nosso quintal possui uma capacidade olfativa e auditiva n vezes maiores do que os nossos. Outros animais, como ornitorrincos e tubarões, possuem sistemas de detecção de campos eletromagnéticos, coisa que passa longe do sistema sensorial humano – e veja que esse sistema evoluiu independentemente mais de uma vez, já que ornitorrincos e tubarões são bem distantemente aparentados. À luz desses fatos, vemos que o antropocentrismo na interpretação da evolução deve ser de uma vez por todas abolido.
Como dizia Gould, o homem foi caindo para a beirada do universo conforme os grandes avanços da ciência. Cada um desses avanços mostram o quão pouco nós sabemos do mundo a nossa volta e o quão mais complexo e fascinante ele é do que nós imaginamos. Só o fato de a vida ter surgido e de a evolução ter conduzido, entre inúmeros outros caminhos, “a seres capazes de compreender o processo, e até de compreender o processo pelo qual o compreendem”, como citou Dawkins, já é mais do que fascinante. Talvez nem todo o nosso desenvolvimento neuronal seja capaz de um dia entender todos os detalhes dessa história intrincada do nosso lar e das leis que o governam. Parafraseando Haldane, “o Universo não é apenas mais estranho do que imaginamos; ele é mais estranho do que podemos imaginar”.
Referências
Dawkins, R.; A Grande História da Evolução. Companhia das Letras, São Paulo-SP.
Gould, S. J.; A Imprevisível e Fortuita Evolução da Vida. Scientific American Brasil – Especial História da Evolução, Duetto, São Paulo-SP.
Gould, S. J.; Darwin e os Grandes Enigmas da Vida. Martins Fontes, São Paulo-SP.
Matioli, S. R. (ed); Biologia Molecular e Evolução. Holos, Ribeirão Preto-SP.

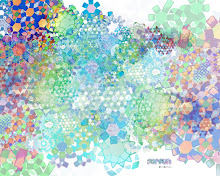
O título desse ensaio é simplesmente genial!!
ResponderExcluir